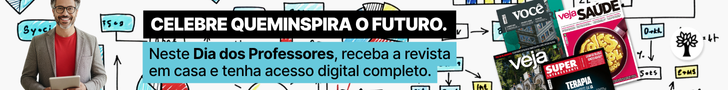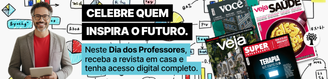Música e saúde: descubra o efeito terapêutico das canções
Vai malhar? Capriche na playlist. Fazer cirurgia? Ouça sua canção favorita. A arte que toca os ouvidos tem múltiplos efeitos sobre o corpo. E a ciência explica

O médico Tiago Kuchnir levou um susto ao descobrir que a banda Coldplay havia disponibilizado ingressos para o Pequeno Cotolengo, uma organização de apoio a pessoas com deficiência de todas as idades, levar dois de seus assistidos ao show do grupo inglês em Curitiba.
No dia 21 de março de 2023, o diretor-técnico da instituição trocou o consultório pelo estádio de futebol Couto Pereira. Ele acompanhou Jeffer Carlo, de 23 anos, e Milton Meller, de 47, ao espetáculo liderado pelo vocalista Chris Martin. Os dois são cadeirantes e têm paralisia cerebral — o que não os impediu de curtir imensamente aquela noite.
“A alegria deles é difícil de descrever. Aproveitaram cada minuto”, recorda Kuchnir. “Na volta para casa, não pararam de cantar um só minuto. Ainda hoje, quase dois anos depois, abrem um sorrisão ao lembrar da experiência.”
Poucas coisas tocam tanto o ser humano como a música — a despeito das condições físicas, psíquicas e sociais do ouvinte. Não à toa, dia sim, outro também, surge um estudo explorando seu papel na saúde. Um deles, realizado por cientistas canadenses, descobriu que escutar sua canção predileta pode ser tão eficaz contra a dor quanto tomar um comprimido de analgésico.
O experimento, sediado na Universidade McGill, em Montreal, recrutou 63 voluntários, que recebiam estímulos térmicos equivalentes a uma xícara bem quente encostada no braço. O resultado dos testes indica que um som gostoso aumenta a tolerância ao desconforto. Assim, pode ser uma boa levar um fone de ouvido e sua playlist favorita quando for doar sangue ou passar pela cadeira do dentista.
+ Leia também: Como a música toca o coração
Por falar nisso, uma pesquisa da plataforma digital de saúde Tebra revela que a música Don’t Stop Believin’, da banda americana Journey, foi eleita a ideal para ouvir em consultórios médicos e odontológicos. Motivo? Seria um “calmante musical”. Mas, antes de seguirmos em frente, na batida de uma melodia (ou não), convém dar ouvidos a uma importante ponderação.
“A música ajuda, só não substitui o acompanhamento médico e, se necessária, a prescrição de remédios”, adianta a psiquiatra Luiza Heberle, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.
Com essa bola devidamente cantada, ela pode (e deve) ser utilizada como um recurso terapêutico. Até porque, além do potencial analgésico, pode acelerar o tempo de recuperação dos pacientes.
Foi a essa conclusão que chegaram cirurgiões reunidos em um congresso científico da área. Experiências mostram que os recém-operados que ouvem música sentem menos dor, tomam menos medicamentos para essa finalidade e relatam menos ansiedade.
Resumo da ópera: tendem a voltar mais cedo para casa. O achado não surpreende o médico Henrique Rego. Em 2020, no auge da pandemia que matou 714,3 mil brasileiros, ele colocou seu ukelele na bagagem e pegou o primeiro avião para Manaus, uma das capitais mais atingidas pela covid-19. Lá, tocou o instrumento de origem havaiana para médicos e pacientes.
+ Leia também: Música e meditação pelo bem do cérebro
“O objetivo inicial era aliviar a tensão e compartilhar o amor. Mas confesso que superou as minhas expectativas”, conta. “Me lembro de pacientes que não conseguiam retirar a máscara de oxigênio. Depois dos primeiros encontros musicais, apresentaram melhora em seu quadro respiratório e, em poucos dias, receberam alta hospitalar.”
Música não opera milagres num centro cirúrgico ou numa UTI, é claro, mas, ao que tudo indica, tem com o que somar.
Do outro lado do Atlântico, um estudo europeu, englobando universidades de dez países, está investigando o efeito restaurador da música sobre o sono. Uma das hipóteses investigadas é que os sons propiciam a redução tanto da frequência cardíaca como da pressão arterial — um puro estado de descanso.
A pesquisa, intitulada Lyllabyte, procura descobrir uma alternativa mais saudável para os remédios prescritos para dormir, como calmantes e sedativos. No Brasil, muitas cartilhas reforçam que o ideal é dormir em um ambiente escuro, confortável e silencioso. Mesmo assim, reconhecem que há pessoas que, para relaxar, precisam ouvir música.
“Mais do que o gênero, o que importa é o ritmo. Músicas lentas e relaxantes ajudam a induzir o sono. Com as rápidas e agitadas, é o contrário”, diz o fisiologista Gabriel Pires, da Associação Brasileira do Sono (ABS). “O ideal é programar o timer para desligar sozinho depois de uns 30 minutos, porque a mesma música que faz adormecer de noite pode acordar de madrugada”, adverte.
Quem canta seus males espanta?
Quando escreveu o livro de poesia Geórgicas lá na Roma antiga, Virgílio não podia imaginar que um de seus versos seria lembrado séculos depois. Mais do que um ditado popular, “Quem canta seus males espanta” tem base científica.
De acordo com a neurocientista Julie Wein, soltar a voz pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.
E não importa se você canta no Teatro Municipal ou no chuveiro. O importante é botar a garganta para vibrar e se sentir bem.
Aliás, o famoso verso de Virgílio já inspirou dois sambas de peso: um de 1946, cantado por Carmen Miranda (“Vou cantar pra não chorar”, diz a letra); outro de 2004, gravado por Zélia Duncan (“Desgraça vira encanto”, promete o autor, Itamar Assumpção).

O geriatra Henrique Rego não é um caso isolado de médico que toca música — ou seria de músico que salva vidas? Se cresce o número de estudos sobre os benefícios dos sons, a ponto de se firmar e se ensinar a prática da musicoterapia, também abundam exemplos de profissionais de jaleco que recorrem às melodias para oferecer conforto aos pacientes.
Tem de tudo: de cardiologista que toca saxofone a epidemiologista que compõe samba. Isso sem falar no cirurgião, no pediatra e no anestesista que, juntos, montaram uma banda, a Não Estamos de Plantão.
O hematologista Nelson Hamerschlak, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, também já subiu nos palcos. À frente do grupo Skeletons, fez show para arrecadar fundos para uma instituição paulistana.
“Música faz bem para tudo. Para o corpo e para a mente. E não estou falando só de ouvir. Mas de cantar e tocar também”, afirma. “Tenho certeza de que, se voltasse a tocar regularmente, teria mais saúde física, mental e emocional.”
Entre cantores e ouvintes, profissionais e pacientes, a enfermeira Eliseth Leão não se esquece do dia em que ouviu de uma mulher com câncer o seguinte desabafo: “Todo sofrimento pode ter um recreio”. No caso dela, o tal “recreio” era a sessão de musicoterapia no hospital.
Na literatura médica, a musicoterapia é descrita como a utilização da música e de seus elementos como suporte ao tratamento de distúrbios neurológicos, psíquicos e comportamentais.
+ Leia também: Os benefícios da música para cães e gatos
Com anos de dedicação à pesquisa na área — seu doutorado avaliou a aplicação de música erudita em mulheres com dor crônica —, Eliseth enxerga nesse tipo de terapia um recurso que complementa o cuidado integral do ser humano, não importa a idade, com o objetivo de restaurar o equilíbrio e o bem-estar.
“É também uma forma de autocuidado em momentos de crise. Basta lembrar que, durante a pandemia, muita gente foi até a varanda para cantar e ouvir os outros.”
A escala de situações em que a musicoterapia pode prestar serviço é ampla. Começa com os recém-nascidos e se estende aos cuidados paliativos, sempre buscando trazer conforto e segurança.
De acordo com as evidências, pode ajudar na socialização de jovens com autismo, aprimorar a concentração diante do TDAH, relaxar vítimas de estresse pós-traumático, resgatar memórias entre idosos com Alzheimer e encorajar pessoas com Parkinson a caminhar melhor.
“É claro que, para cada paciente, é preciso escolher a melhor técnica ou o repertório certo”, observa a enfermeira. “Em um contexto clínico, é necessário recorrer a um profissional experiente e capacitado.”
Os tipos e a profissionalização da musicoterapia
Eliseth divide a musicoterapia em passiva e ativa. A primeira é quando o paciente internado ou em reabilitação ouve a playlist selecionada pelo terapeuta. A segunda é quando o profissional interage com o indivíduo, seja cantando uma música, seja tocando um instrumento.
Ninguém precisa ser afinado como Luciano Pavarotti ou virtuoso como Yamandu Costa para se tornar um musicoterapeuta ou usufruir de seus benefícios. “O ser humano é musical por natureza”, reforça Eliseth. “Todas as crianças cantam. Se deixam de cantar depois de adultas, é porque sofreram críticas ou ficaram com vergonha.”
Ela própria veio de uma família de músicos amadores. O irmão tocava acordeão e um tio, viola. Quando criança, a pequena Eliseth arriscava o repique na fanfarra da escola. Adolescente, tocava violão na missa de domingo. Adulta, criou um coral para visitar hospitais. “Até tenho um piano em casa, mas toco pouco. Preciso aprender”, admite.
Não faz muito tempo, ela e o maestro João Carlos Martins foram convidados para fazer um ciclo de palestras para profissionais de saúde. Enquanto a enfermeira dissertava sobre música e cérebro, o regente dava seu depoimento sobre dor e superação. Terminada a apresentação, ele sentava ao piano e convidava Eliseth para cantar Luiza, de Tom Jobim. “Já imaginou? Que ousadia!”, diverte-se.
+ Leia também: A música pode melhorar seu desempenho nos exercícios. Mas qual tipo ouvir?
Do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, onde Eliseth trabalha, a música nos leva à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), uma das quatro instituições públicas a oferecer o curso de graduação em musicoterapia — as universidades federais de Minas Gerais e Goiás e a estadual do Paraná são as outras.
É na UFRJ que atua a professora Raquel Siqueira. Ela conta que, embora fosse reconhecida no país, a musicoterapia só foi regulamentada em 2024. Dessa forma, apenas profissionais graduados podem exercer a profissão. Raquel, uma delas, já trabalhou com dependentes químicos e pacientes soropositivos.
Em 2025, pretende tirar do papel um projeto de musicoterapia social voltado a pessoas em situação de rua. “Fazer show é bom. Mas cantar para ajudar alguém em sofrimento é melhor ainda”, acredita, toda sorrisos. Doutora em psicologia, Raquel explica que uma sessão de musicoterapia pode ser tanto individual quanto em grupo.
As aplicações vão da prevenção à reabilitação, inclusive de distúrbios físicos.
Só não dá para pensar que é panaceia e totalmente isenta de efeitos colaterais — na melhor das hipóteses, pode despertar emoções desagradáveis; na pior, um tipo de epilepsia desencadeada por estímulos sonoros. “Assim como o bisturi só deve ser manejado por um cirurgião, a musicoterapia deve ser exercida por um profissional qualificado.”
Já ouviu falar em efeito mozart?
Wolfgang Amadeus Mozart já tinha morrido havia dois séculos quando, em 1993, neurobiologistas da Universidade da Califórnia, nos EUA, publicaram um artigo afirmando que ouvir a Sonata para Dois Pianos em Ré Maior tornava as pessoas mais inteligentes.
Em 2010, cientistas da Universidade de Viena, na Áustria, esmiuçaram mais de 40 estudos e não encontraram nenhuma prova da existência do chamado efeito Mozart.
Em 2021, uma terceira pesquisa sugeriu que a tal melodia não aumentava a inteligência, mas acalmava o cérebro de pessoas com epilepsia. Aguardemos as conclusões do próximo estudo.

Música para o coração
No dia 30 de setembro de 2019, o maestro Isaac Karabtchevsky, então com 84 anos, foi ao Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, fazer exames de rotina. Na saída, encontrou um grupo de voluntários que tinha acabado de se apresentar aos pacientes da unidade. De improviso, começou a reger o coral, que cantou A Paz, versão da música Heal the World, de Michael Jackson, gravada pelo grupo Roupa Nova.
Karabtchevsky é famoso, entre outras proezas, por ter popularizado a música clássica no Brasil. Em 1986, levou 200 mil pessoas até a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Com o gramado lotado, parte do público assistiu ao espetáculo de dentro do lago!
“Chegar aos 90 anos é maravilhoso. Sempre tive excelentes médicos à minha disposição. No entanto, a família é o melhor hospital do mundo. Maria Helena, minha esposa, e Lucinha e Tetê, minhas filhas, são verdadeiras bússolas”, derrete-se o diretor artístico e maestro titular da Orquestra Petrobras Sinfônica.
Dos órgãos do corpo, um dos mais tocados pela música é o coração. Literalmente. É o que indicam dois estudos, um italiano e outro americano. Músicas vibrantes, como a Sinfonia Nº 9, do alemão Beethoven, ou Nessun Dorma, do italiano Puccini, podem auxiliar na reabilitação de pacientes que sofreram infarto ou derrame.
Segundo os pesquisadores da Universidade de Pavia, elas modulam os batimentos cardíacos, a frequência respiratória e a pressão sanguínea. Já os cientistas da Universidade de Maryland reiteram que ouvir a música favorita, independentemente do gênero, mexe positivamente com o sistema cardiovascular.
Os voluntários da experiência foram submetidos a três tipos de música: a favorita, a relaxante e a estressante. O que se desvendou? O diâmetro dos vasos sanguíneos dilatou em 11% no caso de uma melodia suave e em até 26% no caso da canção predileta.
No entanto, o calibre das artérias que percorrem o coração encolheu 6% quando seus respectivos donos tiveram que ouvir música chata, maçante ou desagradável.
+ Leia também: Música é aliada contra a pressão alta
Quando garoto, o cardiologista Nathan Soubihe passou por diferentes fases: quis ser jogador, astronauta, bombeiro… Em casa, convivia com os livros de medicina do pai, cardiologista, e com as partituras da mãe, professora de música.
Não deu outra. Enquanto brincava com as réplicas do órgão que o pai trazia para casa, compunha suas primeiras canções lá por volta dos 11 anos.
Quando cresceu, conciliou as duas profissões: a de médico e a de músico. Há pouco tempo, chegou a fundar uma banda de pop-rock: Dr. Nathan e os (Im)pacientes. No repertório, covers de sucesso e músicas autorais.
“Uma música relaxante tem o poder de reduzir a pressão e a frequência cardíaca. É o que a maioria dos remédios para o coração faz”, explica. “Por essas e outras, defendo que a música é um importante coadjuvante no tratamento médico. É a medicina da alma”, diz o profissional do HCor, em São Paulo.
Assim como ouvir música minimiza a ansiedade antes de uma cirurgia e abrevia o pós-operatório, em outro contexto, o dos atletas, pode realmente melhorar o desempenho na competição. Foi o que observaram cientistas da Universidade de Agder, na Noruega, ao convocar 40 jovens soldados (23 homens e 17 [mulheres) para um experimento.
Música e exercício, uma combinação de sucesso
Os voluntários foram divididos em dois grupos: o primeiro ouviu música techno (em duas versões: lenta e rápida) e o segundo, não. Conclusão: ouvir música, independentemente do ritmo, é melhor para a performance esportiva do que não ouvir. Entretanto, os participantes que ouviram a versão mais rápida da melodia tiveram desempenho melhor em uma competição de remo.
Esse é o efeito ergogênico da música. Decupando a palavrinha de origem grega, entendemos que ergogênico é tudo aquilo que melhora o desempenho ou a recuperação. Aliás, não faltam evidências sobre o impacto da música na disposição de esportistas amadores ou profissionais. Não apenas antes da atividade, mas, também, durante e depois.
Entre outras vantagens, ela mitiga a sensação de cansaço, torna o exercício mais fácil e, acredite, até induz maior queima de calorias!
“Quando você pratica exercício, seu cérebro libera endorfina, substância que produz uma sensação de prazer e bem-estar. Quando você ouve música, também. Ao praticarmos exercício ouvindo música, podemos potencializar esse efeito”, expõe o preparador físico Turíbio Leite de Barros Neto, doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Mas o que ouvir? “O gênero da música vai depender da intensidade do exercício. Se for uma simples caminhada, dá para ir de música clássica. Corrida? Rock’n’roll”, responde o especialista. Unindo o útil ao agradável, hoje aulas de spinning e bike indoor são feitas na cadência dos sons.
+ Leia também: Uma música para salvar vítimas de parada cardíaca

Entre a música e a ciência
A neurocientista Julie Wein trabalha no Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), no Rio de Janeiro. O neurologista Mauro Muszkat é coordenador do Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Interdisciplinar da Unifesp. O psiquiatra Adriano Segal é o responsável pelo Departamento de Psiquiatria e Transtornos Alimentares da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso).
Mas, quando tiram o jaleco, todos eles têm uma identidade secreta.
Julie é cantora e compositora. Em 2020, lançou seu primeiro álbum, Infinitos Encontros. E agora está em estúdio, gravando o segundo. Muszkat toca piano desde criança. Começou cedo, aos 4 anos! Chegava a estudar até oito horas por dia. Já Segal faz cover de Elvis Presley. Participou de um concurso de sósias do rei do rock e cantou Suspicious Minds, com direito a topete e costeleta, no Programa do Jô, em 2013.
Em 2019, Julie se viu obrigada a escolher entre a ciência e a música. Tinha acabado de passar no doutorado na UFRJ quando soube que tinha sido aprovada em um teste para um musical. “Me bateu um desespero ter de escolher e, depois, me arrepender”, confessa. Na dúvida, resolveu conciliar os dois: o estudo e o espetáculo. Não se arrepende: “Pode ser cansativo, mas é recompensador”.
Neste ano, lança um disco novo, com regravações de pianistas como Ivan Lins, Francis Hime e Benito di Paula, e vai fazer dois shows: um com repertório autoral, e outro, um tributo a Tom Jobim, com clássicos da bossa nova.
Entre os benefícios da música, destaca o estímulo ao desenvolvimento do cérebro. “Se soubessem como é um exercício completo, a música viraria disciplina obrigatória no currículo escolar”, afirma a neurocientista.
A exemplo de Julie, Muszkat também teve que fazer uma escolha — no caso, entre a música e a medicina. E não conseguiu. “Resolvi fazer medicina, regência e composição simultaneamente”, conta. Quando optou pela neurologia, estudou os efeitos da música sobre a atividade cerebral.
Em pouco tempo, entendeu que, apesar de aparentemente distantes, a música e a neurologia conversam entre si. Mais do que isso: constatou que, do ponto de vista estrutural, o cérebro de um músico é diferente do de um não músico. Por essa razão, é a favor do ensino da disciplina para crianças e adolescentes.
Os efeitos são múltiplos, ele diz: seguir as notas libera neurotransmissores, ativa a resiliência, atenua a depressão, resgata lembranças até em casos de demência. “Há mais de 150 centros espalhados pelo mundo estudando os benefícios da música como terapia complementar para transtornos físicos, psíquicos e neurológicos”, relata.
Para fazer bem à saúde, não importa o gênero; importa a preferência do ouvinte. Pode ser tanto o samba quanto o rock.
O psicanalista Alexandre Wanderley, por exemplo, prefere o primeiro. Tanto que fundou, há 20 anos, o Tá Pirando, Pirado, Pirou!, um bloco de Carnaval formado, entre outros foliões, por pacientes da rede pública de saúde mental do Rio, profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), familiares e simpatizantes da causa antimanicomial.
O nome do bloco, aliás, foi sugestão de um usuário: “Não vamos fazer Carnaval só para quem já pirou e está internado no Pinel. Vamos para a rua brincar com quem ainda está pirando”. Já o psiquiatra Adriano Segal prefere o rock. Não por acaso, perdeu as contas de quantos shows fez em homenagem ao seu ídolo, Elvis — muitos deles em congressos médicos.
O Tá Pirando, Pirado, Pirou! é apenas um dos blocos de saúde mental que espalham alegria pelas ruas cariocas no Carnaval. Há outros, como o Império Colonial, o Loucura Suburbana e o Zona Mental, que promovem a inclusão social e a luta contra estigmas.
No caso do Tá Pirando, o desfile acontecerá no dia 23 de fevereiro, na Avenida Pasteur, endereço do primeiro hospício da América Latina, fundado por dom Pedro II em 1852.
“O samba é um poderoso lenitivo para as dores da alma”, descreve Wanderley. “Nosso objetivo é desconstruir preconceitos e promover a cidadania. Queremos que o louco seja reconhecido como um cidadão que contribui para um mundo mais inclusivo, amoroso e plural.” Já Segal ressalta que cantar, seja lá onde for, é algo prazeroso.
E ganhar aplausos, acredita, melhor do que receber curtidas nas redes sociais. “Não me interessa muito saber como os mágicos fazem seus truques”, compara o psiquiatra. “Gosto mesmo é de me divertir assistindo aos seus números.”
Então fica a dica! Ou melhor, a prescrição: solte o som em 2025!
Quando o som faz mal à saúde
Se você chega em casa depois da balada e, quando deita, ouve um zumbido, cuidado: é sinal de que a exposição ao som foi excessiva e você corre o risco de perder a audição se continuar com esse hábito.
O alerta é do médico Robinson Tsuji, presidente da Sociedade Brasileira de Otologia. “Em volume alto, a música de um show pode ser tão prejudicial quanto o barulho de uma fábrica”, compara.
O limite tolerado depende de intensidade e duração. “A partir de 130 decibéis, qualquer tempo de exposição pode causar dano”, adverte Tsuji. Então nunca passe dos 60% no volume dos fones e, se preciso, use protetores auriculares.
+Leia também: Poluição sonora: um problema do barulho (e de saúde pública)
Existe mesmo “música chiclete”?
É aquela que, como o nome diz, gruda na memória. Em geral, tem letra simples, ritmo acelerado e refrão repetitivo. É o que os americanos chamam de earworms (“vermes de ouvido”). O tema é objeto de estudo do psicólogo James Kellaris, da Universidade de Cincinnati, desde 2001.
Identificar uma música chiclete é fácil. Quanto mais banal e repetida, mais ela cola. Difícil é desgrudá-la da cabeça. Há alguns truques. Um deles, sugere um experimento inglês, é… mascar chiclete!
Outros: ouvir a música até o fim e ligar para um amigo (ou fazer algo que prenda a atenção) ou substituir a música chiclete por outra, mais agradável.


 O que é asfixia perinatal? Conheça causas, complicações e tratamentos
O que é asfixia perinatal? Conheça causas, complicações e tratamentos