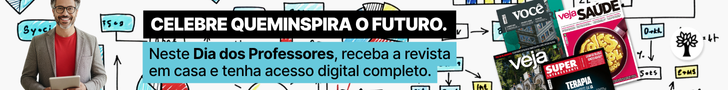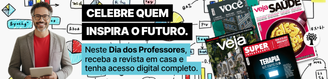Violência obstétrica: a violação dos direitos reprodutivos das mulheres
Advogada denuncia práticas corriqueiras em hospitais brasileiros feitas sem o consentimento da mulher e que configuram a quebra dos seus direitos

O acompanhamento médico e o parto hospitalar nem sempre foram uma realidade para as mulheres. Na verdade, o que vivemos hoje é resultado de uma construção histórica. No passado, quando uma mulher estava grávida, ela buscava que o momento do parto fosse conduzido por uma parteira, que normalmente era uma mulher com conhecimentos de ordem prática e desempenhava essa função ao longo da vida.
Contudo, no decorrer do tempo, a classe médica, juntamente com a Igreja e o Estado, passou a ter mais interesse e papel nesse processo, culminando no afastamento dessas profissionais. No período da Inquisição, as parteiras foram equivocadamente associadas aos processos de abortamento e outras práticas vistas como moralmente inadequadas. Acabaram perseguidas e, infelizmente, muitas foram mortas na fogueira como bruxas por conta do conhecimento e experiência que carregavam.
Assim, todo o controle reprodutivo foi transferido para a comunidade médica, que criou, dentro da área cirúrgica, o que hoje se chama de obstetrícia. O processo de “medicalização do corpo feminino” fez com que, de certo modo, nossa sociedade perdesse um pouco da essência feminina nesse processo.
Não se menosprezam a necessidade e a importância da ciência e de um bom profissional da saúde para esse evento tão grandioso na vida de qualquer mulher, até porque, nada se compara a ter segurança e suporte no nascimento da criança. Entretanto, o que se questiona são as séries de intervenções “justificadas” pelos médicos, mas que geram danos e severas interferências à autonomia da mulher.
A violência obstétrica é toda ação ou omissão que prejudique a mulher dentro do seu processo reprodutivo. Isso pode se dar de várias formas, como a verbal, em que ela é exposta ao ridículo, inferiorizada ou humilhada por sua condição pessoal ou pelas escolhas feitas acerca do parto. Também pode ocorrer de forma física e/ou sexual, quando a mulher é submetida a intervenções desnecessárias ou sem o seu consentimento.
Além disso, há uma série de tratamentos negligenciados ou oferecidos à mulher em trabalho de parto que são extremamente prejudiciais. Alguns exemplos: fazê-la deitar-se em litotomia (na vertical), quando se sabe que há outras posições anatomicamente mais confortáveis para o nascimento; não dar analgesia quando solicitado; recusar água ou alimentos à gestante; e deixá-la sem o direito de ter um acompanhante durante o parto.
Outra situação envolve a episiotomia, que é um corte feito na lateral da vagina com o intuito de “abrir passagem” para o bebê. No Brasil, esse procedimento é praticamente um protocolo entre os partos, quando na verdade deveria ser feito apenas em casos extremos para evitar danos maiores. Quando é realizado sem indicação, pode gerar danos irreversíveis, como dores na hora do sexo ou até mesmo ao se sentar.
Mais um procedimento que costuma ser feito é o popularmente chamado “ponto do marido”. O próprio nome já sugere quão errada é essa intervenção. Corresponde ao ponto dado — na maioria das vezes, sem o conhecimento e consentimento da mulher — para apertar a vagina que supostamente teria ficado alargada após o parto.
Como todos sabem, no momento que o bebê passa pelo canal vaginal, há um processo de dilatação. Contudo, o corpo da mulher naturalmente voltará ao normal com o passar do tempo. Mulheres testemunham muitas dores após esse procedimento e extrema dificuldade na relação sexual. É uma prática absurda e extremamente machista.
Outra violência é aquela atrelada à manobra de Kristeller, que ocorre quando a mulher está em trabalho de parto e o médico ou as enfermeiras empurram a barriga para que o bebê saia a partir desse esforço externo, o que, além de ineficaz, pode ser ainda mais doloroso para a paciente.
A própria cesariana também pode ser considerada uma prática de violência obstétrica quando feita sem prescrição adequada e o consentimento da paciente. No Brasil, 90% dos partos do sistema privado e 55% dos realizados no sistema público são feitos via cesárea. A Organização Mundial da Saúde (OMS) entende que apenas de 10 a 15% das operações são, de fato, necessárias e contribuem para a saúde da mãe e do bebê.
Vale a pena mencionar ainda que, quando não se permite que a mulher fique com seu filho logo após o nascimento, isso pode ser considerado uma infração aos direitos da mãe. É bem comum que a equipe técnica retire do local o bebê, impedindo esse contato pele a pele entre mãe e filho, muitas vezes nem informando o motivo e aonde vai a criança. A própria ciência demonstra a importância desse primeiro contato, que só deve ser impedido por razões médicas justificadas.
Assim, alterar ou omitir informações à paciente configura uma forma de violência obstétrica. Devemos ter em mente que muitas intervenções são classificadas como procedimentos urgentes e compulsórios apenas pela vontade do médico, não da gestante. Precisamos respeitar a opção da mulher, que tem seus direitos resguardados pela legislação brasileira.
Mulheres que passam ou passaram por algumas dessas situações podem pedir ajuda a um profissional jurídico para denunciar e coibir violências obstétricas. O caso pode exigir a abertura de um boletim de ocorrência (BO) e a procura do Ministério Público, que tem o dever de fiscalizar os hospitais. As vítimas desse tipo de violência devem ser reparadas civilmente, inclusive para que um trauma não permaneça impune.
* Danielle Corrêa é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões e em Direito Médico e da Saúde, e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM)


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO