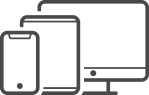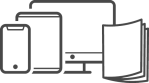Ao final de 2019, quando os primeiros casos do novo coronavírus foram detectados na China, a enorme dimensão que isso acarretaria ao mundo era inimaginável. A alta taxa de contágio e a possibilidade de pessoas assintomáticas transmitirem a doença foi o primeiro sinal de alerta à comunidade científica do real risco de uma pandemia.
Os primeiros estudos chamavam a atenção para o fato de que uma pequena, mas significativa, parcela dos infectados evoluía com uma pneumonia capaz de progredir para insuficiência respiratória severa. Nesse momento, todos os olhos e recursos se voltaram para otimizar o suporte intensivo e ventilatório aos pacientes graves, com comprometimentos que não ficavam restritos aos pulmões.
No início da pandemia, os dados chineses mostravam uma baixíssima incidência de lesão aguda nos rins. Como consequência, as demandas e os estoques para terapia renal substitutiva (diálise) acabaram negligenciados. A ideia era que isso não passaria a ser um recurso escasso.
Porém, com a progressão da pandemia, a realidade encontrada foi muito diferente, como mostraram os próprios trabalhos científicos. Já com o vírus se alastrando na Itália, cerca de 30% dos pacientes internados em UTIs precisavam de hemodiálise. Muitos deles, por conta da instabilidade do quadro e por não suportar o acúmulo de líquido no organismo, dependiam do que chamamos de diálise contínua — nesse tratamento, o paciente fica ligado a uma máquina que faz o trabalho dos rins por 24 horas, às vezes por dias.
Nos Estados Unidos, a situação foi crítica, com uma enorme necessidade de diálise no leito. As revistas científicas de nefrologia começaram a publicar estudos com experiências e orientações a fim de otimizar recursos e planos de contingência à medida que os hospitais ficavam lotados com pacientes, não poucos desenvolvendo insuficiência renal.
No Brasil, a pandemia também nos colocou diante de uma demanda crescente para hemodiálise nos hospitais. Os centros com UTI para Covid-19 chegaram a dobrar o número de diálise e quadruplicar o número de terapias renais contínuas. Esse é mais um desafio imposto no dia a dia de médicos intensivistas, nefrologistas e equipes de enfermagem pelo país.
Mas a complexidade do problema não vai acabar com a estabilização da pandemia. Com a diminuição do número de casos, esperada no Brasil para os próximos meses, é provável que comecemos a deparar com novos desafios que ainda não sabemos dimensionar.
Em primeiro lugar, quantos desses pacientes que se recuperaram da infecção pela Covid-19 permanecerão com disfunção renal, necessitando ou não de hemodiálise? É esperado que a lesão renal aguda cesse após a melhora clínica do paciente, mas hoje sabemos que isso não está ocorrendo em todos os casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus — muitos precisam de acompanhamento nefrológico ambulatorial ou mesmo de terapia renal substitutiva. Porém, a ciência ainda não conhece com precisão quantos dos casos apresentarão essa evolução e isso é um fator complicador para que o sistema de saúde possa se preparar adequadamente para enfrentar a demanda.
Até porque já vivemos uma realidade de mais de 130 mil pessoas fazendo diálise no país em menos de 800 clínicas distribuídas de forma desigual, concentradas em grandes centros urbanos e, sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste, de acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). Regiões como Norte e Nordeste, que tiveram muitos casos de coronavírus por milhão de habitantes e consequente aumento dos quadros de insuficiência renal, são sabidamente muito carentes de alternativas para esse tipo de tratamento,
Vale lembrar que um paciente crônico precisa ir à clínica de diálise de três a cinco vezes por semana para receber o tratamento que lhe garante a vida. Nesse contexto, um levantamento da Aliança Brasileira de Pacientes Renais e Transplantados (Abrasrenal) indica que pelo menos 5 mil novos brasileiros são diagnosticados com insuficiência renal por ano, precisando de diálise, sem que a oferta da terapia no SUS cresça na mesma proporção. Esse dado não contempla a realidade da Covid-19. Se já existia um gargalo de acesso ao tratamento, e falta de diagnóstico, imagine com os efeitos pós-pandemia.
Em segundo lugar, devemos ter em mente que muitos pacientes renais estão adiando consultas e exames por conta das medidas de distanciamento social e do medo de contaminação. Porém, a doença renal não pode esperar. Se ela não for tratada precocemente, tende a ter uma evolução desfavorável, com necessidade irreversível de diálise ou mesmo óbito.
Ainda não se consegue mensurar o real impacto do adiamento de consultas e exames, mas doenças graves capazes de comprometer os rins, como lúpus e nefropatia diabética, hoje são menos recorrentes nos hospitais, e custo a acreditar que elas reduziram com a pandemia. Ainda não estamos vendo as consequências, porém, em algum momento, creio que esse impacto também chegará ao sistema de saúde.
Os efeitos diretos e indiretos da Covid-19 na saúde dos rins são expressivos neste momento e, provavelmente, vamos viver um aumento de demanda por cuidados e tratamentos muito tempo depois do controle da pandemia.
* Dra. Lectícia Jorge é nefrologista e intensivista, doutora pela Universidade de São Paulo (USP) e gerente nacional de Serviços Hospitalares da Fresenius Medical Care


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO