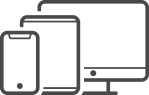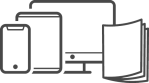Nas últimas semanas, um novo alarme soou no Brasil: o da escassez de medicamentos críticos para fazer frente ao aumento dramático de internações por Covid-19 nas UTIs. Por todos os lados emergiram notícias de estoques de sedativos e bloqueadores neuromusculares, essenciais para a intubação de pacientes, chegando ao final. Na tentativa de vencer os gargalos logísticos, e pressionado por entidades representativas do SUS e do sistema privado, o governo federal fez a requisição administrativa de milhares de doses de remédios fabricados no Brasil.
Ainda não está claro se essa e outras medidas tardias anunciadas para solucionar o desabastecimento serão suficientes diante do aumento descontrolado de casos. Mas a nova crise colocou em primeiro plano um aspecto especialmente abjeto do mercado de medicamentos: a facilidade da indústria de lucrar abusivamente com a necessidade das pessoas.
De acordo com um levantamento da Prefeitura de Porto Alegre, algumas medicações tiveram aumentos no preço de mais de 400%, como é o caso do cisatracúrio. O mesmo problema é identificado pelos hospitais privados. Um relatório do SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e demais Estabelecimentos de Saúde) do início de março mostra que 79% dos gestores identificaram aumento no valor de remédios durante a pandemia. Segundo o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, esse crescimento vertiginoso foi apontado como um dos principais motivos para o desabastecimento.
Diante desse quadro, a pergunta que as autoridades e a sociedade devem fazer é a seguinte: como é possível que aumentos dessa magnitude aconteçam em um mercado supostamente regulado? No Brasil, os preços máximos de remédios são estabelecidos por uma autoridade em função de critérios —também supostamente — objetivos.
Comprar medicamento é uma necessidade, não uma opção do consumidor. Por isso que a demanda desse tipo de produto é inelástica, e a relação entre consumidores e indústria farmacêutica, desigual. A regulação existe e é adotada pela maior parte dos países para equilibrar essa balança.
As regras vigentes no Brasil são centradas na Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) e foram instituídas em 2002, logo após uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigou, justamente, a prática de aumentos abusivos por parte da indústria farmacêutica. O avanço foi sem dúvidas importante, mas hoje, 20 anos depois, a realidade impõe um aperfeiçoamento desse marco regulatório. A atual crise é apenas o mais recente e dramático exemplo das limitações do modelo atual.
O problema mais evidente é a enorme distância entre os preços máximos estabelecidos pela Cmed e os praticados nas pontas do mercado — inclusive nas compras públicas, realizadas pelo governo. É esse abismo que permite, por exemplo, que uma farmacêutica aumente os valores em três, quatro ou cinco vezes sem ultrapassar o teto regulatório. A distorção começa com a fórmula para atribuição do preço de entrada de um novo produto no mercado, que inclui critérios desconectados com a realidade socioeconômica brasileira. E é agravada ao longo do tempo com a fórmula para a atualização anual dos preços, que não permite reajustes negativos. Ou seja, o valor máximo só sobe, nunca desce.
Outro problema crônico é a falta de transparência por parte da indústria sobre os custos de desenvolvimento, produção e distribuição dos medicamentos. Isso impede os consumidores de conhecerem o verdadeiro valor de um produto farmacêutico. Quando a Cmed foi criada, determinou-se que as empresas deveriam cumprir requisitos de transparência no momento do registro sanitário, mas os dados a serem fornecidos são poucos, e tanto a Cmed quanto a Anvisa podem dispensar as companhias desta exigência.
Assim, grande parte dos preços (sobretudo de novos medicamentos com patentes) é baseada no quanto é possível cobrar de pacientes e governos em função de promessas clínicas. Cálculos objetivos que incluam, por exemplo, os investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento ficam, para dizer o mínimo, em segundo plano. Veja: se universidade e governos arcam com parte do desenvolvimento de um produto farmacêutico, isso representa uma economia para a indústria. E essa economia deveria ser repassada para o consumidor. A pandemia da Covid-19 mostra a participação crucial de diferentes instituições públicas no desenvolvimento das vacinas, por exemplo.
É por esses e outros motivos que o Idec apoia a aprovação de um novo marco regulatório para o mercado farmacêutico no Brasil através da campanha “Remédio a Preço Justo”. Já há uma proposta em análise no Senado: o projeto de lei 5591/2020, de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES). O texto enfrenta esses e outros gargalos da regulação brasileira, além de fortalecer a Cmed e ampliar a participação no órgão, inclusive com representantes do setor de saúde suplementar.
Outra medida tomada pelo Idec à luz da gravidade das denúncias relacionadas ao atual desabastecimento foi a apresentação de informações em um processo aberto pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Em março de 2020, o órgão instaurou um procedimento preparatório para apurar a cobrança de preços abusivos em produtos médico-farmacêuticos, mas os últimos dados fornecidos pelas empresas datam de julho de 2020. Desde então, o processo está parado.
Como se vê, não se trata apenas de questionar as empresas por práticas moralmente questionáveis, mas de encontrar responsabilidades objetivas e de preencher os vazios da estrutura regulatória que deveria proteger consumidores e o SUS de situações inaceitáveis como as que estamos assistindo.
* Teresa Liporace é diretora-executiva do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). Ana Carolina Navarrete é advogada e coordenadora do Programa de Saúde do Idec.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO